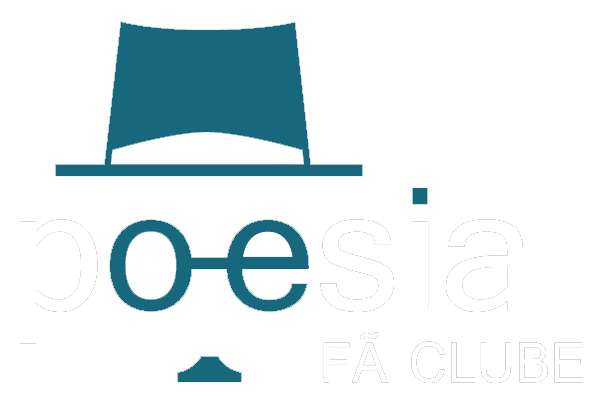ADRO

ADRO
Ainda é noite nos meus olhos,
O sol teima em arrancar-me à morte
A que me entrego em esperança fingida.
A indiferença das vontades prisioneiras do conteúdo dos sacos de plástico
Que o corpo carrega contente
Como extensões com que a natureza o dotou
Castiga as tentativas de me arrancar ao degredo.
Acabou a missa,
As almas benzidas fundiram-se com o bafo a álcool,
Eu assisto ao arraial consciente da minha transparência.
Não pequei menos na renúncia ao copo de vinho
Que na altivez com que selei o chamamento do altar.
Misturei-me à espera de um puxão na manga do casaco,
Cheguei a roçar-me descaradamente nas cascas enfeitadas.
Com a sabedoria do tempo
O pelourinho assistia ao triunfo do pecado
Murmurando as confissões de traição que a dor deixou escapar.
Só faltava o que não cabia nas promessas
Que os moços imberbes não conseguiam calar
Ao anúncio do cio das máscaras ciosas da alva pureza.
O adro estava cheio
As possibilidades do olhar eram infinitas,
O meu estava preso à faísca da inquietação
Parecia esperar traindo o espírito de viajante
Que incapaz de reconhecer o destino
Nega pertencer a uma errância completamente estrangeira.
Numa matemática qualquer eu estava a mais
Como um algarismo neutro em todas as operações
Mas que teima em existir em nome da harmonia da escala
Impondo a sua necessidade ao escárnio dos pares e dos ímpares.
Preferia ser feio,
Poder responder obscenidades aos risos mal disfarçados
Como se a fealdade me elevasse acima de qualquer censura
E depois rir-me do incómodo da minha presença
Na festa dos abençoados.
O adro continua cheio.
Talvez seja só de gente
O calor que fez descer os nós das gravatas a meio do peito
E sela em suor o que ainda não aconteceu.
Todos parecem doentes das intenções
E eu irremediavelmente lúcido,
Espectador por desprezo,
Abafo o grito da salvação
E afasto-me carregando o peso de uma ausência.
Fujo de mim empoleirado no sarcasmo da ingratidão,
Não soube ser o que devia
Desisti ainda pequeno
Quando me neguei a sujar as mãos na terra
E percebi que tinha rompido com a minha verdade.
Instaurei a agonia no meu respirar
Quis misturar-me com a ingenuidade do vulgar
E sem crença continuo a visitar o adro,
Esperando pacientemente pelo puxão na manga do casaco
(ou então pela centelha de um olhar de raspão)
Que me resgate da solidão a que me condenou a consciência.
Os olhos do puto de sapatos rotos
Dizem-me que sou a existência do nada
Tal é o modo estridente como o seu olhar me atravessa,
Algures no vazio, incapaz de acolher o doce de uma carícia
Pressinto a presença ruminante de um desejo
Que reclama a minha negação no jogo da confiança
Em que quis entrar sem licença
Para seduzir o lento ondular
Que emana do perfume dos corpos descaradamente disponíveis.
Quem sou eu?
O que julgo esbarra nas contradições que inocentemente me fulminam,
Julgo tanta coisa e desemboco sempre em coisa nenhuma.
Sou um fantasma,
Assim me diz o frenesim das conversas no adro
Assim me diz o nevoeiro com que me confundo
Assim me diz o cinzento neutro das minhas emoções.
Decidi copiar a renúncia do corpo daquele velho
Na expectativa de encontrar uma história onde me aconchegue.
Desisti.
Se alguém der por que morri
Escreva na terra da minha cova
‘Este não valeu a pena’
A água da chuva lavará as palavras,
Consumar-se-á o casamento entre a escuridão e o nada.
O adro espera ansioso pelo fim da missa.