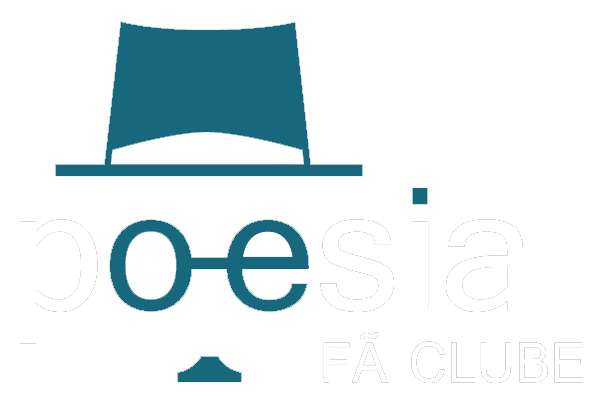O REGRESSO DA GUINÉ
O REGRESSO DA GUINÉ
Estava em regime de rendição individual e no final de dois anos aguardava a chegada do meu substituto no BENG. 447, Brá – Guiné – Bissau, nomeado pelo Ministério do Exército em Lisboa. Mal soube que ia para a Guiné deu baixa por doença ao Hospital Militar, obrigando a nova nomeação, o que me forçou a ficar mais três meses, cansado e desejoso de regressar à Metrópole.
Em Dezembro de 1970, com uma Companhia de Infantaria Madeirense, saí do Cais de Bissau, embarcado no Carvalho Araújo, com passagem pela Madeira e chegada a Lisboa – Alcântara, nas vésperas do Natal.
Para trás ficava o dever cumprido de militar à força, mas também a camaradagem e a amizade que as situações-limite elevam ao expoente máximo. Muitos amigos ainda perduram, outros perderam-se pela lei natural da vida. Todos os anos os militares de engenharia realizam um encontro, invocando os que já faleceram e todos os anos a lista aumenta.
Se na ida éramos “carne para canhão”, agora regressávamos com muitos pedaços de diferentes formas e feitios, vividos com muitas emoções e revoltas, partilhas de amor fortuito, e alguns casos com frutos de fertilidade, o filho do tuga, do furriel, do alferes…
A viagem demorou quase uma semana, quase um batalhão flutuante no Atlântico, com formaturas, ordem de serviço, pessoal escalado, disciplina militar.
No final de umas horas e longe dos sons de guerra, ouvíamos batuques de música de Cabo Verde, mornas e coladeiras, canções de intervenção… Se os ouvidos se alegravam, o nariz nem por isso: o cheiro do navio era nauseabundo. Era um prémio de serviço à Pátria…
Queixei-me ao comandante das forças militares em andamento marítimo e, como tinha a janela do quarto, junto às correntes da água, deu-me como resposta sarcástica: “o nosso alfares, agora tenente, pode abrir a janela, para ter ar puro e dessa forma afugentar os mais cheiros.” Registou-me o nome e sempre que lhe aparecia pela frente verificava um certo desdém pela minha pessoa.
Quando estávamos para atracar na Ilha da Madeira, colocou-me de oficial de dia à Unidade. Como vingança, procurei sair para o exterior durante cerca duas horas, para saborear umas espetadas madeirenses num restaurante junto ao Cais, incumbindo o oficial de prevenção para me substituir e dizer ao Comandante “que eu andava por ali, ainda agora o vi, deve estar na casa de banho” …
Talvez para não criar alarido social, chegámos ao Funchal ao anoitecer, desembarcando a Companhia Madeirense e todos os outros militares do Continente, com a devida autorização.
Ao fim de umas horas em solo madeirense, os militares da Metrópole começavam a chegar, como abelhas a colmeias, estas com pólen, aqueles carregados de bebidas alcoólicas no estômago. Eram momentos de libertação. Como oficial de dia, coadjuvado pelo restante pessoal, não tinha mãos a medir: os nossos Homens não podiam cair ao mar, havia que encaminhar a tropa para os seus postos, para os seus dormitórios e contá-los como presos em penitenciárias. Zarpámos para a Metrópole num navio de bêbedos imprevisíveis, já vomitado pelas muitas ordens de despejo. Estes militares ébrios encontravam-se em pior situação do que marinheiros ingleses enfrascados nos bares do Cais do Sodré. Os mais sóbrios tinham que limpar os detritos dos seus camaradas. Acalmavam-se os mais eufóricos, consolavam-se os mais deprimidos e ouviam-se os desabafos, nem sempre os mais desejáveis: “o borrachão diz aquilo que lhe vai no coração.”
Reunido o pessoal de serviço, nova batalha se iniciou: acalmar a ira do mal-encarado, apaziguar o ar carrancudo do comandante supremo das tropas em caminhada marítima para Lisboa. No final de forte e ativa ação psicológica, lá alisou a ira; compreendeu, cedeu, e não se verificaram castigos, nem actos de corpo de delito, já tinham passado os efeitos dos copos de litro. Os militares curtiam as bebedeiras em catres ou em improvisadas camaratas no convés, e, embalados pelo mar, iam adormecendo nos braços do deus Baco, esquecendo o deus Marte ou Ares.
De manhã, ainda cedinho, chegámos ao ponto de partida – o Cais de Alcântara -, onde nos esperavam centenas de familiares e amigos, com dísticos de saudação, nomes identificáveis, muita felicidade, euforia e música.
Depois das formalidades legais, da última formatura, da audição dos esfarrapados, dos bafientos discursos, seguiu-se a ordem mais desejada: ir ao encontro dos familiares.
Percorri espaços e, no meio da multidão, descobri os meus pais ansiosos por abraçar o seu filho, regressado da guerra. Agarraram-se a mim, cobriram-me de beijos e abraços e a minha Mãe segredou-me ao ouvido: “filho, estás mais moreno e mais magro.” As queimaduras da guerra tinham-me dado um certo “bronze” e a alimentação militar não chegava para engordar tropas milicianas.
De elétrico seguimos para o Terreiro do Paço, onde num velho cacilheiro chegámos a Cacilhas, em menos de meia hora atravessámos o Tejo. Numa camioneta de passageiros de João Cândido Belo chegámos ao Bairro da Azeda de Cima em Setúbal.
Ali festejámos o meu tão desejado regresso da Guiné-Bissau e apeteceu-me contrariar Bocage e nunca mais me ausentar de ti, “meu pátrio Sado” …
António Alves Fernandes
Aldeia de Joanes
Outubro/2018